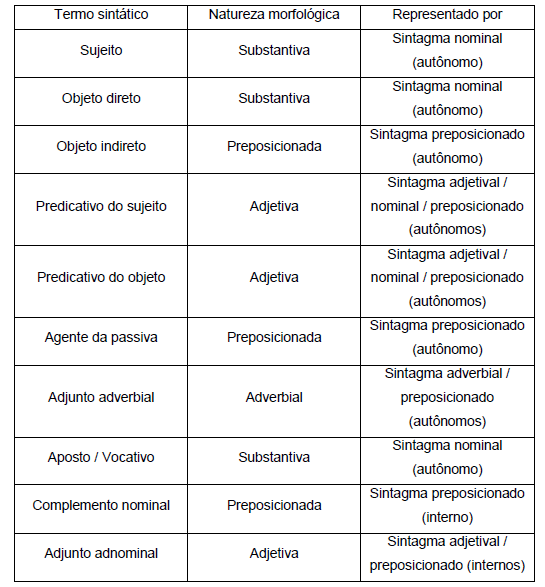ATIVIDADE PRÁTICA SUPERVISIONADA
Proposta de atividade vincula à disciplina Morfossintaxe Aplicada da Língua Portuguesa com a orientação da Profª Sueli Salles e sob coordenação da Profª Joana Ormundo.
Grupo de letras - Campus Vergueiro
Universidade Paulista UNIP - SP
Relatório de aulas da disciplina de Morfossintaxe Aplicada da Língua Portuguesa
Parte I – Apresentação
O que é morfossintaxe?
Utilizamos nesta disciplina, diversos livros como base teórica, sendo o principal deles Prática de morfossintaxe da professora SAUTCHUK, Inez. Ela afirma que:
"Quando o falante da língua produz qualquer enunciado, está sempre articulando duas atividades linguísticas básicas: a de escolha de uma forma e a de relação dessa forma com outra."
Todo enunciado possuí uma escolha morfológica (eixo paradigmático) e determinadas relações entre essas escolhas (eixo sintagmático). Por isso, o estudo da estrutura da língua deve ser morfossintático, isto é, a junção desses dois eixos.
Por que estudar morfossintaxe?
Muito se discute sobre a importância dos estudos gramaticais da língua. Esta disciplina, pretende unificar os diversos níveis de ensino que, geralmente, são separados pelas gramáticas tradicionais em fonética, morfologia, sintaxe e semântica. Segundo SAUTCHUK (2010, pág. 13):
"Para que se possa efetivamente demonstrar como ocorre esse funcionamento morfossintático da língua, é necessário que se tenha, porém, um conhecimento seguro das classes gramaticais e das várias possibilidades de relação que podem ser feitas a partir de seus integrantes. Pode-se afirmar, de antemão, que todas as funções sintáticas contraídas no eixo sintagmático são confirmadas, originadas ou autorizadas pela base ou natureza morfológica das unidades envolvidas nessas relações."
Parte II – Revisão
Iniciamos a disciplina com uma breve revisão dos conteúdos linguísticos estudados nos semestres anteriores, com o objetivo de ativar estes conhecimentos para aplicar nos próximos conceitos. Os conteúdos revisados foram:
- Estruturalismo;
- Sintaxe segundo Chomsky;
- Eixo paradigmático x Eixo sintagmático;
- Hierarquia gramatical moderna x tradicional;
- Morfemas lexicais e gramaticais;
- Tipos de gramemas;
- Classificações morfológicas.
Conceituamos também, as noções de frase, oração e período que são fundamentais para prosseguir nos estudos sintáticos.
Segundo Cunha e Cintra (2013, pág. 133) “Frase é um enunciado de sentido completo, a unidade mínima de comunicação”. Portanto basta ter sentido completo e será frase, não necessariamente com a presença de um verbo diferente da oração que segundo Cereja e Magalhães (2011, pág. 226) “Oração é o enunciado que se organiza em torno de um verbo”.
Sempre que essas duas definições se combinam, ou seja, sempre que temos uma oração com sentido completo, dizemos que é um período. Segundo Cereja e Magalhães (2011, pág. 226) “Dá-se o nome de período à frase organizada em oração ou orações”.
Parte III – Período Simples
Definimos quais são os termos sintáticos mais importantes: o sujeito e o predicado. Segundo Cunha e Cintra (2013, pág. 136) “O sujeito é o ser sobre o qual se faz uma declaração; O predicado é tudo aquilo que se diz do sujeito”. Tanto o sujeito quanto o predicado recebem classificações diferentes dependendo de como estão organizados sintaticamente, isto é, dependendo da relação com outros elementos.
Classificação do sujeito
Classificação do predicado
Identificamos a relação entre classe morfológica, sintagma e função sintática. Essa relação é denominada de Cruzamento dos eixos como exemplificado a seguir:
Parte IV – Período Composto
Subordinação
Segundo Cunha e Cintra (2013, pág. 612) “Dissemos que as orações subordinadas funcionam sempre como termos essenciais, integrantes ou acessórios de outra oração”. As subordinadas recebem uma classificação dependendo de qual é a sua relação com a oração principal. Existem três classificações e cada uma delas com seus respectivos tipos:
- Oração Subordinada Substantiva (OSS) – OSS subjetiva; OSS objetiva direta; OSS objetiva indireta; OSS predicativa; OSS completiva nominal; OSS apositiva;
- Oração Subordinada Adjetiva (OSAdj) – OSAdj explicativa; OSAdj restritiva;
- Oração Subordinada Adverbial (OSAdv) – OSAdv causal; OSAdv comparativa; OSAdv concessiva; OSAdv condicional; OSAdv conformativa; OSAdv consecutiva; OSAdv final; OSAdv proporcional; OSAdv temporal.
Coordenação
Segundo Cunha e Cintra (2016, pág. 610) “A oração coordenada, como a principal, nunca é termo de outra oração nem a ela se refere”. As orações coordenadas são, portanto, independentes e podem estar separadas no período por vírgulas ou por conjunções.
A oração que não contém conjunção é chamada de assindética e aquela que contém recebe o nome de sindética e sua função. As funções das coordenadas sindéticas podem ser:
- Aditivas;
- Adversativas;
- Alternativas;
- Conclusivas;
- Explicativas.
Parte V – Aplicação
Durante as próximas aulas, executamos exercícios de casos peculiares e ambíguos de classificação e corrigiremos situações de textos defeituosos utilizando os conhecimentos morfossintáticos e também semânticos, já que muitas vezes a estrutura sintática interfere no significado.
Como forma de exemplificação, abaixo segue um trecho considerado defeituoso. Este texto foi corrigido em sala de aula. Para facilitar a compreensão, do que foi proposto como correção, as palavras ou pontuações menos adequadas estarão numeradas e em seguida teceremos os comentários:
“A maconha, onde(1) seu nome científico é Cannabes sativa, é a droga ilícita mais experimentada no Brasil. Justificando(2) que é menos inofensiva(3). Como o álcool e o cigarro(4)."
1. Na primeira frase, “onde” não está usado adequadamente, pois não há relação de lugar;
2. Na segunda frase, vemos uma estrutura incompleta, devido ao verbo no gerúndio e não ter um auxiliar ou outro verbo flexionado;
3. A expressão “menos inofensiva” dá a ideia de “mais agressiva”, esta forma de escrever causa confusão no entendimento, pois pelo que se pode perceber a intenção do autor era dizer que os usuários da maconha defendem que ela é “mais inofensiva” do que outras drogas;
4. Na terceira frase, não há sequer um verbo e a palavra “como” não tem um referente de comparação claramente definido.
A nossa proposta de correção levando em consideração tudo que foi apontado é a seguinte:
“A maconha, cujo nome científico é Cannabes sativa, é a droga ilícita mais experimentada no Brasil seguindo perspectiva de que é mais inofensiva do que o álcool e o cigarro”.
Considerações finais
Os fundamentos teóricos, são extremamente importantes para todos os estudos. Quando se trata de língua muitos acreditam que um falante já possuí todo o conhecimento necessário para se comunicar em sociedade, no entanto, o conhecimento das teorias gramaticais e linguísticas são fundamentais, assim afirma Antunes (2014, pág. 15)
"A concepção (ou a teoria) que se tem acerca do que seja a linguagem, acerca do que seja a língua, do que seja a gramática é o ponto de partida para todas as apreciações que fazemos, mesmo aquelas mais intuitivas, mais descompromissadas e corriqueiras."
A disciplina de morfossintaxe é, antes de tudo, o estudo da estrutura da Língua Portuguesa com base teórica diversificada e com o objetivo de verificar diversas ocorrências no uso da língua, sejam elas consideradas adequadas ou não para cada situação comunicativa.
Como futuros professores de Língua Portuguesa entendemos que o ensino de gramática deve ser atualizado, ou seja, devemos trabalhar com gêneros discursivos que circulam em sociedade sempre com o objetivo de trazer o conhecimento de mundo dos alunos para a sala de aula e instrumentá-los para que possam se desenvolver bem em diversas situações de comunicação e produção de textos. Segundo SANT’ANNA (2011, pág 76)
"Enfim, os professores de Língua Portuguesa, ao incluírem no espaço da sala de aula as várias modalidades discursivas correntes do cotidiano e aquelas que o aluno precisará fazer uso em sua experiência social mais formal, estarão tanto instrumentando para uma prática contextualizada e eficiente de leitura, e escritura de textos, quanto contribuindo para sua formação integral como cidadãos atuantes na sociedade em que vivem."
Referências bibliográficas
[2] Livro: CUNHA, Celso; CINTRA, Lindley. Gramática do portugês contemporâneo. 6. ed. Rio de Janeiro: Lexikon, 2013.
[3] Livro: CEREJA, William; MAGALHÃES, Thereza. Conecte: gramática reflexiva. 1. ed. São Paulo: Saraiva, 2011.
[4] Livro: ANTUNES, Irandé. Gramática contextualizada: limpando ‘o pó das ideias simples’. 1. ed. São Paulo: Parábola, 2014.
[5] Artigo: SANT’ANNA, Marco A. Os gêneros do discurso. D. In: UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA. Prograd. Caderno de formação: formação de professores didática geral. São Paulo: Cultura Acadêmica, 2011, p. 68-76, v. 11.
Plano de aula para 3º Ano do Ensino Médio
Livro didático utilizado
CEREJA, William, MAGALHÃES, Thereza. Conecte: gramática reflexiva. 1. ed. São
Paulo: Saraiva, 2011.
Conteúdos
Revisão
de período simples e composto.
Objetivos gerais
Retomar os conhecimentos de período simples
através dos textos do livro didático e relacionar com os elementos do período
composto.
Objetivos específicos
- Diferenciar período simples e composto;
- Reconhecer as relações de sentido do texto através da estrutura sintática.
Recursos metodológicos
Livro
didático e material de apoio (xerocado).
Etapas da aula
- Apresentar os conteúdos proposto para esta aula;
- Leitura de textos do livro didático para discutir os termos presentes nestes textos e sua relação com o sentido;
- Leitura do poema “O assassino era o escriba” de Leminski;
- Análise do poema em grupo e discutir as respostas para as questões apresentadas pelo professor.
Avaliação
Atividade em
grupo de até 5 pessoas com os seguintes objetivos:
Levantamento
de vocabulário necessário para compressão do poema (nomenclatura dos elementos
sintáticos);
Leitura e
análise do poema para responder as questões a seguir.
O assassino era o
escriba
Meu professor de análise sintática
era o tipo do sujeito inexistente.
Um pleonasmo, o principal predicado da sua vida, regular como um paradigma da 1ª conjugação. Entre uma oração subordinada e um adjunto adverbial, ele não tinha dúvidas: sempre achava um jeito assindético de nos torturar com um aposto. Casou com uma regência. Foi infeliz. Era possessivo como um pronome. E ela era bitransitiva. Tentou ir para os EUA. Não deu. Acharam um artigo indefinido em sua bagagem. A interjeição do bigode declinava partículas expletivas, conectivos e agentes da passiva, o tempo todo. Um dia, matei-o com um objeto direto na cabeça.
Paulo Leminski
|
1. Defina o que é período simples e período
composto. Aponte no poema um exemplo de cada um.
2. Identifique no poema ao menos 3 elementos da
análise sintática e explique o efeito de sentido deste termo no poema.
3. Considerando as discussões em sala de aula
sobre frase, oração e período: Identifique no poema um exemplo de frase nominal
e um exemplo de oração.
4. Lexema e gramema (verificar no livro do Cereja
e Magalhaes);
5. A gramática determina que quando o sujeito não
estiver escrito na frase ele deve ser considerado oculto, indeterminado ou
inexistente. Assim, quando o verbo estiver em terceira pessoa tem-se o sujeito
indeterminado.
No sétimo verso do poema aparece o verbo “casou” identifique o sujeito
deste verbo e compare com a definição de sujeito proposta pela gramática.
Referências
[1] Livro: CEREJA, William, MAGALHÃES, Thereza. Conecte: gramática reflexiva. 1. ed. São
Paulo: Saraiva, 2011.
[2] Site: http://educacao.uol.com.br/planos-de-aula/fundamental/portugues-sintaxe-a-partir-de-um-poema-de-leminski.htm
Acesso em: 19/11/2016